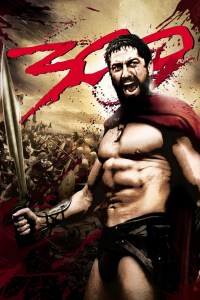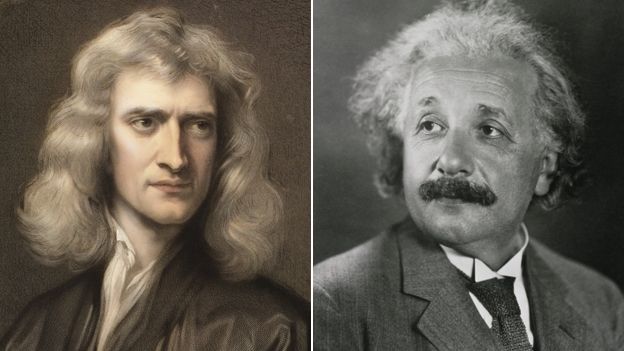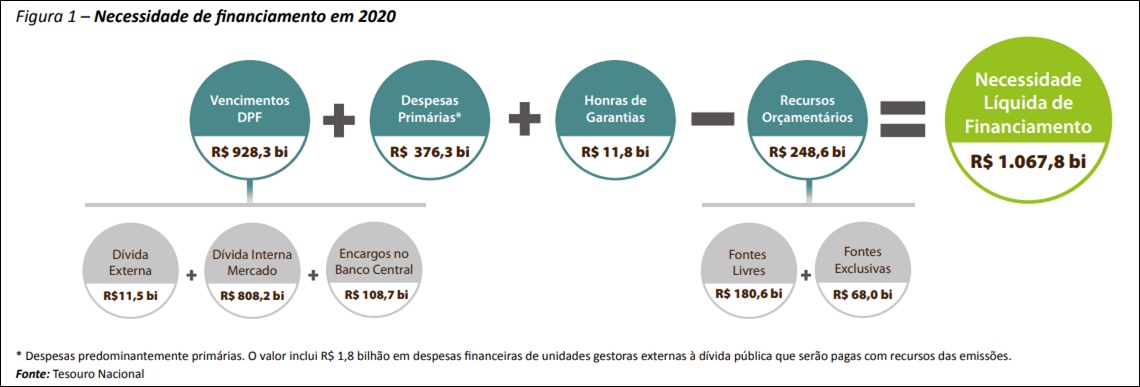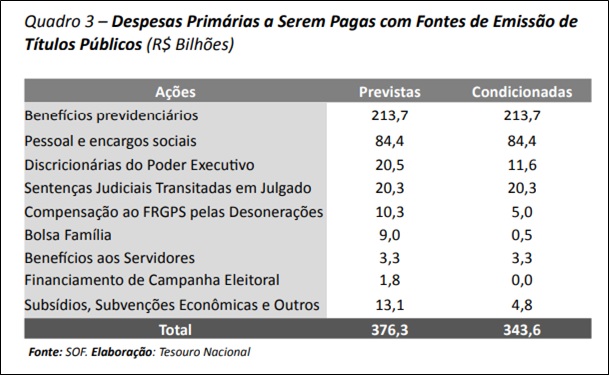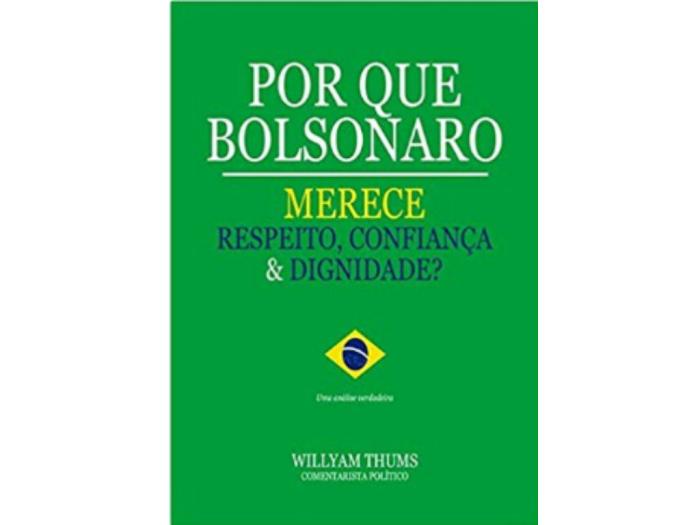Há filmes que falam de um período histórico específico. Outros se voltam para o mecanismo social e institucional que explica seu funcionamento e permite sua repetição. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, pertence claramente ao segundo grupo. Mais do que retratar um regime autoritário, o filme se dedica a expor como ele funciona por dentro nos pequenos gestos, nas hierarquias intermediárias, nas justificativas morais, nos silêncios convenientes.
É justamente por isso que o filme dialoga de forma tão direta com o Brasil atual. Não porque “repita” a história, mas porque revela padrões recorrentes: econômicos, políticos, institucionais e simbólicos que atravessam diferentes camadas da vida social.
Capitalismo de compadrio – ideologia como acessório
Um dos personagens mais perturbadores do filme é o empresário que orbita o poder. Ele não é movido por convicção ideológica, mas pelo acesso. Seu compromisso não é com projetos de sociedade, mas com contratos, proteção, privilégios e previsibilidade para seus negócios.
Esse tipo de empresário prospera em qualquer governo – esquerda, centro ou direita – desde que o Estado seja capturável. A ideologia entra apenas como verniz retórico. O que importa é a proximidade com o poder decisório.
Não é coincidência que muitos desses agentes prefiram regimes autoritários, especialmente ditaduras de extrema direita. Não por afinidade moral, mas por cálculo econômico. Regimes assim tendem a:
- restringir greves e organização sindical;
- reduzir direitos trabalhistas;
- enfraquecer fiscalização;
- limitar a liberdade de imprensa;
- centralizar decisões, facilitando acordos diretos entre elites.
A democracia é custosa para esse tipo de empresário porque trabalhadores têm voz, conflitos são públicos e a regulação é disputada. A ditadura, ao contrário, barateia o conflito distributivo ao suprimir negociação, reprimir demandas sociais e reduzir o custo político de impor perdas a quem tem menos poder.
O poder que escorre – pequenas autoridades e grandes atrocidades
Outro ponto central do filme é o papel das autoridades intermediárias: policiais locais, burocratas, chefes menores. Em regimes autoritários, o poder não se concentra apenas no topo; ele escorre para baixo, criando um ambiente de empoderamento sem responsabilização.
Esses agentes passam a agir com a sensação de autorização permanente. A violência deixa de ser exceção e vira procedimento. Muitas atrocidades não são explicitamente ordenadas, mas incentivadas por clima, por sinais, por recompensas simbólicas.
O filme acerta ao mostrar que o horror não depende apenas de líderes carismáticos ou decisões centrais. Ele se sustenta na banalidade do poder cotidiano, exercido por gente comum investida de autoridade sem freios – aquilo que Hannah Arendt definiu como a “banalidade do mal”.
Preconceito regional como ferramenta política
O preconceito contra nordestinos aparece no filme não como detalhe cultural, mas como dispositivo funcional. Reduzir uma região inteira a estereótipos morais – atraso, dependência, ignorância – é uma forma eficaz de:
- deslocar conflitos econômicos para o campo identitário;
- fragmentar solidariedades nacionais;
- justificar abandono institucional.
Esse discurso não desapareceu. Ele reaparece com força na extrema direita brasileira contemporânea, muitas vezes disfarçado de crítica econômica ou eleitoral. O Nordeste vira “culpado” por escolhas políticas, como se fosse um bloco homogêneo e moralmente inferior.
O filme mostra, com precisão incômoda, que esse tipo de preconceito não é apenas retórico. Ele prepara o terreno para exclusão, para a retirada de direitos e para a naturalização da desigualdade.
Anti-intelectualismo e o ataque às universidades
Outro eixo fundamental é a desvalorização da pesquisa e das universidades públicas. O discurso autoritário costuma atacar essas instituições sob o argumento de ineficiência ou ideologização. Mas o conflito é mais profundo.
Universidades públicas concentram exatamente o que regimes autoritários temem: pensamento crítico, produção autônoma de conhecimento, questionamento do poder.
A defesa da privatização ignora um dado básico da economia da inovação: pesquisa básica quase nunca é financiada pela iniciativa privada, devido ao alto risco, ao retorno incerto e ao longo prazo. Historicamente, as grandes inovações tecnológicas nasceram de universidades e de financiamento estatal.
Nos Estados Unidos, a própria internet surgiu de projetos financiados pelo Departamento de Defesa, por meio da DARPA. O GPS foi desenvolvido para uso militar. Os semicondutores tiveram forte apoio de compras governamentais e pesquisa pública. As vacinas de RNA mensageiro receberam décadas de financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde antes de se tornarem viáveis comercialmente. E avanços em computação, satélites e ciência dos materiais foram impulsionados por programas da NASA. O setor privado entrou depois, quando o risco já havia sido socializado.
Enfraquecer essas instituições não é um erro técnico. É uma escolha política que empobrece o debate público, aumenta a dependência tecnológica externa e reduz a capacidade do país de pensar seu próprio futuro.
Violência, silêncio e adaptação
O filme também trata de algo mais desconfortável: a passividade. Não são apenas os agentes violentos que sustentam o sistema, mas também aqueles que se adaptam, se calam ou racionalizam abusos em nome da sobrevivência pessoal.
Autoritarismos modernos não se instalam por ruptura abrupta, mas por erosão gradual. Direitos são relativizados, cortes são normalizados, exceções viram regra. A violência se torna ruído de fundo.
Essa zona cinzenta entre vítimas e algozes é essencial para a manutenção do regime. O filme insiste nesse ponto porque ele é o mais difícil de encarar.
Desprezo pelo futuro
Ao desvalorizar educação, ciência e planejamento de longo prazo, o autoritarismo revela sua lógica mais profunda: a preferência pelo presente imediato. Regimes assim vivem de curto prazo, de manutenção de poder, de controle. O futuro exige instituições fortes, previsibilidade e crítica: tudo o que ameaça estruturas autoritárias.
Nesse sentido, o ataque à pesquisa e à universidade não é colateral. É estrutural.
Um alerta estrutural
Agente Secreto não propõe uma tese fechada, nem oferece respostas simples. Sua força está em mostrar como autoritarismos se constroem no cotidiano, combinando interesses econômicos, preconceitos simbólicos, empoderamento sem freios e anti-intelectualismo.
O anti-intelectualismo que ele expõe – a desconfiança sistemática em relação à ciência, às universidades e ao conhecimento especializado – não é um detalhe periférico, mas parte central da engrenagem autoritária. O movimento anti-VAX é um exemplo emblemático dessa lógica: a substituição de evidência por opinião, de pesquisa por crença, de debate informado por desinformação mobilizada politicamente. Ao corroer a confiança em instituições científicas, abre-se espaço para decisões baseadas em medo, ressentimento ou conveniência ideológica, com custos sociais reais e mensuráveis.
O filme incomoda porque sugere que o horror não depende apenas de grandes líderes, mas de arranjos institucionais, incentivos perversos e acomodações morais. Ele nos lembra que a democracia não se perde apenas em grandes eventos, mas em pequenas concessões sucessivas.
Talvez por isso o filme soe tão atual. Reconhecer esses padrões, no cinema e no mundo ao redor, é apenas o primeiro passo. Interrompê-los exige instituições fortes, ciência valorizada e uma defesa ativa do conhecimento como bem público – condição indispensável para qualquer democracia que pretenda sobreviver.